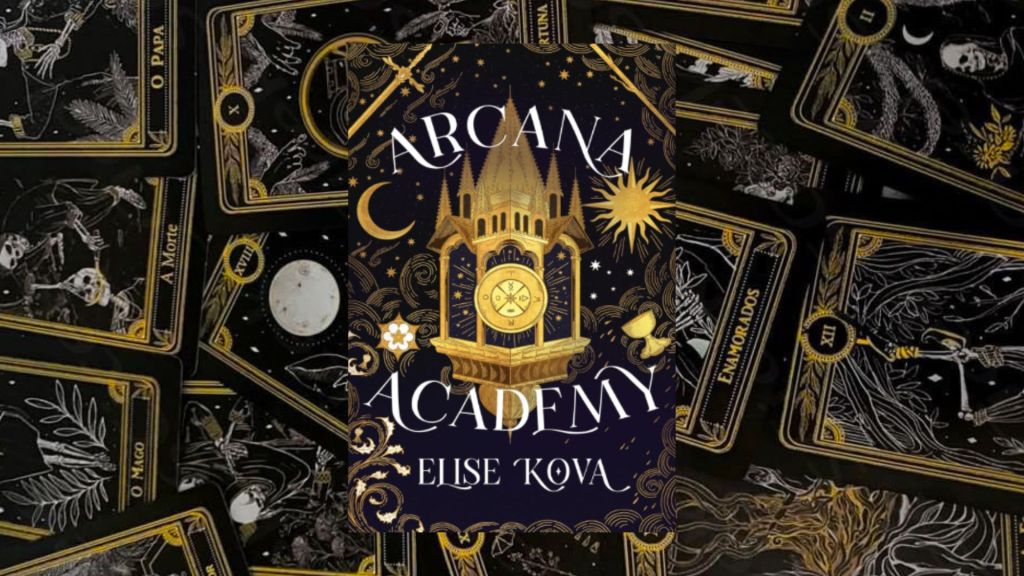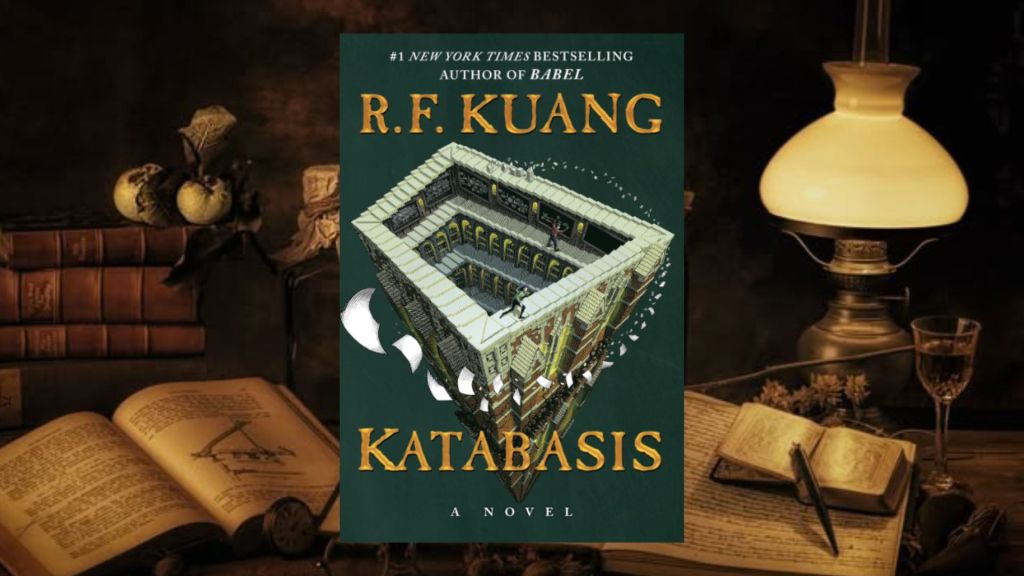Na zona rural de Monte Verde, existe uma estrada de terra por onde ninguém se atreve a passar depois do pôr do sol. Dizem que ela leva ao antigo sítio dos Alencar — um lugar engolido pelo mato, onde o tempo parece ter parado e os cães já não latem. Foi lá que, vinte e dois anos atrás, uma moça desapareceu. A polícia procurou por meses. Os pais enlouqueceram. Mas nunca encontraram nada. Nem uma unha. Nem um grito.
O nome dela era Mariana. E ela era minha.
Nos amávamos às escondidas, como quem guarda um pecado. Mariana dizia que, quando nos formássemos, iríamos embora. Que viveríamos em um sítio, com cavalos, manacás e paz. Falava com uma esperança que destoava daquela cidade tão apodrecida.
Na noite em que sumiu, ela me ligou chorando. Disse que o pai descobrira tudo. Que ia fugir naquela madrugada.
“Me encontra na estrada velha. Três da manhã. Não falha.”
Eu fui. Esperei. Ela nunca veio.
Hoje é sexta-feira 13. Vinte e dois anos depois. E eu voltei. Voltei porque recebi uma carta. Papel amarelado, dobrado em quatro. A mesma caligrafia curva dos bilhetes que ela escondia nos meus livros da escola.
A carta dizia:
“Ainda estou aqui. Me encontra na estrada. Três da manhã. Como combinamos.”
Meu coração socava por dentro. A estrada seguia a mesma. Só mais escura. Mais morta.
O vento cortava rente aos ouvidos. O capim alto se movia devagar, como se respirasse. E então… eu a vi.
De pé, no meio da estrada. Usava o mesmo vestido azul da última noite. Mas agora o tecido estava manchado, encharcado de uma lama escura que parecia brotar de dentro dela. O rosto… torto. O maxilar deslocado, costurado por dentro com algo que brilhava como arame. Ainda assim… era Mariana.
“Você tá viva?” Minha voz falhou.
Ela sorriu. Devagar. Um sorriso que se esticava além do possível. Os dentes — escurecidos nas bordas, a gengiva como papel queimado.
“De certa forma. Mas preciso que você me ajude… a lembrar.”
“Lembrar do quê?”
Ela estendeu a mão. Fria. Suja de terra sob as unhas. E apontou para mim.
“De quem me matou.”
Corri.
Os gritos dela me rasgaram por dentro, como farpas de vidro.
Mas consegui fugir.
Voltei no dia seguinte, de manhã. Levei uma pá. Cavei onde ela indicou: debaixo da figueira torta. Encontrei ossos. Um crânio. E o colar que eu mesma dera a ela no nosso último aniversário. Mas havia mais. Entre os ossos, um diário. Eu não me lembrava dele. Mas ele se lembrava de mim.
As páginas estavam rasgadas, mas li as últimas linhas:
“Ela descobriu. A irmã também está grávida. Do mesmo homem. Disse que, se eu contasse, me matava. Mas se eu escondesse… ela mataria ele. Então menti. Só que agora ela sabe. Agora é tarde.”
O mundo escureceu dentro de mim. Porque eu lembrei.
Lembrei da briga. Dos gritos. Do empurrão.
Do som oco da cabeça dela rachando na pedra.
Fui eu quem cavou. Fui eu quem escondeu. Fui eu quem esqueceu.
Mariana nunca desapareceu. Eu a matei.
Joguei a pá fora. Queimei o diário. Tentei seguir em frente. Mas naquela noite, alguém bateu na minha porta.
Não era uma nova carta. Era Mariana.
O mesmo vestido. O mesmo sorriso. Mas atrás dela… mais gente. Pessoas que eu conhecia. Pessoas que haviam desaparecido ao longo dos anos. Todos com olhos fundos. Todos sorrindo.
Ela me olhou e disse:
“Lembra que a gente ia ter um sítio? Agora temos. Só falta você morar lá. Com a gente. Pra sempre.”
Ninguém nunca mais viu a mulher que cavou sob a figueira. Mas toda sexta-feira 13, uma nova carta é entregue. A letra é dela. O papel, o mesmo.
E sempre que isso acontece, alguém desaparece.
Porque Mariana não quer só justiça.
Ela está montando uma família.